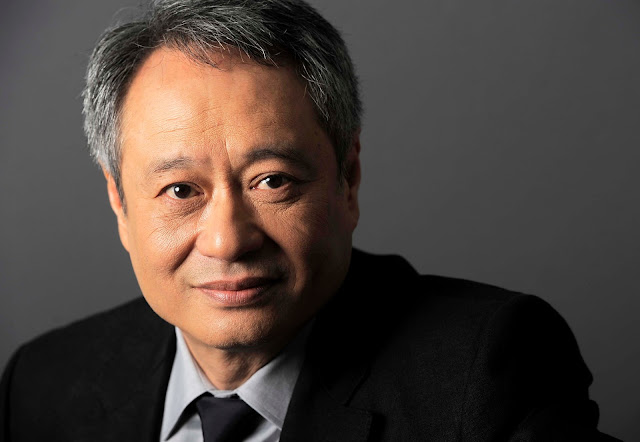Encontre seu filme!
quarta-feira, 4 de maio de 2016
Novo blog
O escritor e editor Diogo Cysne, antigo administrador do hoje desativado Cine Lupinha, comunica a todos os assinantes interessados sobre a abertura de seu primeiro blog pessoal: dcysne.blogspor.com.br.
domingo, 7 de abril de 2013
Jiro sonha com Sushi (2011)
Eu fazia pouca idéia do que estava para acontecer assim que apertasse o play. Os porquês não importam. Desencantos de sempre. Mas é tão... difícil encontrar um filme que, ao subir dos créditos, dê ao espectador a certeza de ter visto algo grande. Que o faça fechar os olhos com os globos levemente voltados para cima, querendo se revirar em nirvana, e soltar um suspiro daquela satisfação tão menor, mas tão mais encantadora que o mais poderoso orgasmo.
Umami.
"Jiro sonha com Sushi" não é construído em forma de orquestra. É, em si, uma orquestra, ou coisa superior. Transcende a mundanidade fílmica e se torna algo de luz, pairando sobre todas as artes. É assim, tão bom. Declara-se, lá para seu terço final, que comer os sushis do mestre Jiro é como escutar a uma orquestra. Parafraseio: assistir a "Jiro..." é comparecer a uma orquestra, e uma magistral. O espectador incrédulo que se arrisque a comprovar e... aperte o play. O maestro sobe ao palco e arregaça as mangas, a batuta tremulando ansiosa na mão. Daí, outra mão, fazendo deslizar as portas do estabelecimento às escuras. Os músicos estão ali, nalgum lugar, mas não fazem barulho enquanto põem os intrumentos no colo e os dedos na corda. De novo, a mão; liga um interruptor. Lá está o restaurante: diminuto, insuspeito, impecável. Quase uma metáfora do território japonês. A narração de Jiro, logo após, só pode ser as palavras de cumprimento do maestro. A tela esbranquece e a música explode (não começa, explode!). Daí para frente, é o sentar em uma poltrona que mais parece montanha-russa.
"Jiro...", assim como a maioria dos documentários que vi nos últimos anos e aprovei com dois polegares firme e freneticamente para cima, é um filme sobre paixão extrema, cometimento espartano e arte. Arte pouquíssimo habitual, diga-se. É ótimo que os documentaristas independentes atuais estejam firmes em perscrutar aquilo que dispensamos como pequenas excentricidades, sejam games indie ou sushis. "Jiro..." é uma construção (quase) impecável sobre a culinária (cuja classificação como arte deixo aos escolares) e seu "subgênero", por assim dizer, a preparação de sushis. Fenomenal o esmero da equipe técnica, em especial as de design de som e fotografia, e tão mais impressionante o foco de laser do filme com seu aparentemente pequeno tema, que por tantas vezes joga armadilhas de distração - todas evitadas. O brilho maior desta estrela, não obstante, fica com o próprio chef, senhor Jiro, sua equipe e, vale arriscar, todo o povo japonês.
O filme transborda paixão. E firmeza. Seu mundo é retratado com a delicadeza de uma câmera de Terrence Malick (não se iludam; estou aqui elogiando a cinematografia do indivíduo, e NADA mais), mas o espectador não é induzido à crença de que se trata de um conto de fadas, longe disso. A severidade exalada de todas as estruturas (petreamente desenhadas, lisas, com formas e curvas homogeneizadas de maneira insana), comidas (cada aparição de um novo sushi é um estalo na língua e nos olhos) e pessoas. Estas, nos curtos 81 minutos que a edição final as legou, ensinam mais sobre a vida e ética de trabalho do que o espectador poderá encontrar em qualquer outro canto ou forma artística. Jiro é uma figura cuja afabilidade vive acobertada por uma camada de austeridade; suas lições, idem.
A primeira vez que ouvi a expressão "morde e assopra" foi numa aula de geografia, discutindo as táticas de guerra norte-americanas contra o Japão na Segunda Grande Guerra. Contra o Japão, que coincidência. "Morde e assopra", ou melhor, "assopra e morde" é o tom deste documentário. Quando nos é apresentada uma moral com a qual concordamos, e muitas vezes de que gostamos, logo após as consequências de sua aplicação são destrinchadas numa oratória tão rígida quanto fluida (inacreditável como todos os japoneses entrevistados falam com a eloquência de grandes atores, levando-me a desconfiar de que eles treinaram muito antes de se expor às câmeras).
Por exemplo: ouve-se um "encontre sua paixão e siga-a", o que está bem de acordo com nossas fantasias de ocidentais capitalistas. Logo após, entretanto, vê-se o que é necessário para seguir o sonho e, principalmente, mantê-lo. Aí, muitos recuam. Tome-se Jiro, ora, como exemplo: o chef mais idoso do mundo a manter a raríssima pontuação de três estrelas no Guia Michelin, esse mestre do sushi tem 85 cinco anos e trabalha dia e noite, sem finais de semanas ou feriados e muito menos plano de aposentadoria. Para ele, estar longe do restaurante é uma agonia. Permanecer em casa com os frutos de uma aposentadoria bem ganha é uma idéia que faz suas sobrancelhas inconscientemente se curvarem de medo, e nem o sono é capaz de separá-lo do trabalho: no império da escuridão, o mestre se ergue da cama e corre para o bloco de anotações mais próximo, pois acabou de sonhar com uma nova receita. Para ele, não existe "o melhor", apenas melhor e melhor e melhor, até que, ao fim da vida, possa suspirar pelo alívio de nunca ter desistido de alcançar a perfeição.
Jiro anda de um lado ao outro do restaurante dando ordens com os olhos (pois, como todos os japoneses da película, ele é homem de poucas palavras), uma expressão compenetrada no rosto e um jeito distante daqueles que guardam muitos segredos. O grande cozinheiro nunca parece feliz ou cansado ou triste, somente bravo. São coisas bonitas e assustadoras de se contemplar.
De sua filosofia, extraio o seguinte e mais impactante trecho de seus depoimentos:
"Quando eu estava na primeira série, meus pais me falaram: 'você não tem mais casa para onde voltar. Por isso, é melhor trabalhar duro.' Eu sabia que estava por conta própria, mas sabia também que não queria dormir debaixo de uma ponte ou num templo budista, então eu tive que trabalhar para sobreviver. Essa é uma lição que até hoje não me deixou. Eu trabalhava até que os chefes me pusessem para fora aos pontapés ou tapas. Hoje, os pais dizem aos filhos: 'Você pode retornar se as coisas não derem certo.', e é por dizerem essas coisas estúpidas que suas crias se tornam um fracasso."
Para se comer no restaurante de Jiro, um estabelecimento minúsculo localizado num canto obscuro de uma estação de metrô de Tóquio - o mesmo local desde sua fundação, é preciso de um a três meses de antecedência. Cada refeição, cujo tempo de consumo não ultrapassa quinze minutos (longo, na opinião do crítico culinário entrevistado), supera os 300 dólares. Não há aperitivos ou complementos, somente opções muito limitadas de bebidas, muito menos espaço para mais que um punhado de pessoas, fazendo da criação de Jiro um pequeno templo de silêncio e apreciação. O sushi dessa minúscula lojinha numa estação de metrô japonesa é a razão pela qual milhares de fanáticos por comida atravessam largos oceanos. Servidos os pratos, o espectador se pergunta o quão de exagero há em tudo aquilo. Ora, é sushi, uma de nossas comidas menos favoritas, e um sushizinho tão simples que leva a pensar que qualquer um com duas mãos, um prato de arroz e peixe no freezer pode fazer igual.
Para mim, a prova da magia deste documentário está não apenas na subversão dos preconceitos, mas na constante sensação de água na boca, no desejo intenso de - céus! - comer o bendito sushi! A simples idéia de pagar milhares de dólares por uma passagem e uma refeição, por um instante, me pareceu sensata. "Jiro..." é uma espécie de hipnose que captura por todos os sentidos, mesmo o paladar e o odor. É um filme com som, luz, cheiro e sabor. O brilhantismo da parte técnica, que talvez devo atribuir ao comprometimento da Magnolia Pictures com o teor artístico de suas produções, está além de descrição. Afortunadamente, assisti à obra em HD, e só posso dizer que a qualidade da fotografia é inacreditável, quase todas cenas capturadas com uma bem-sucedida visão artística. São múltiplas as técnicas de edição, mas todas simples e conservadoras, sem os exibicionismos irritantes de algum diretor-pivete recém formado por uma Ivy League. O manejo da câmera, como dito, é digno de Terrence Malick, mas a experimentação comete algumas gafes, como a repetição demasiada de um movimento em particular (a câmera, em slow motion, recua da parte inferior de uma "cesta" de comida).
Jiro & CIA são personagens tão espetaculares que desviar deles a atenção seria um pecado, mas este é um filme virtuoso. Por vezes temi que os cineastas dessem ouvidos às seduções da serpente narrativa e tentassem "engrandecer", inflar a temática com tecnicismos (explicar detalhadamente o mundo da culinária) ou alertas ambientalistas (transformar-se em propaganda sobre a pesca consciente), mas foram todos falsos alarmes. É certo que a breve parte em que Jiro revisita amigos do interior parece deslocada do teor geral, mas, como dito, foi um breve lapso de consciência. O equilíbrio mantido pelo roteiro entre a figura central (Jiro) e os coadjuvantes é exemplo de maestria no fazer documental. Imagino uma simples rede ferroviária, onde Jiro é a estação central e aqueles ligados a seu restaurante são as estações menores. A locomotiva fílmica parte dele e visita uma estação, para depois retornar a Jiro e partir para outra, sucessivamente até que o percurso esteja elegantemente explorado. "Jiro sonha com Sushi" nunca é um filme de Jiro apenas, e o próprio mestre expressa a aprovação para que não seja (último quarto do filme).
Som e imagem pautam a obra, pois as narrações são poucas e curtas. A firmeza de caráter, a humildade e a visão profunda da vida, aparementente inatas em todo cidadão-médio japonês, marcam depoimentos cujo poder resiste por mérito próprio - se escritas e lidas num papel, seu impacto seria o mesmo. A auto-conciência e o senso de responsabilidade de cada figura retratada são inabaláveis perante suas emoções; sob chuva ou sol, na saúde ou na doença, todos sabem o correto a se fazer... e o fazem. Mais tocante é a situação do filho mais velho de Jiro, uma pessoa oprimida pela responsabilidade de suceder uma lenda japonesa ("Ele precisa fazer um sushi duas vezes melhor para chegar aos ombros do pai") e talvez (não há como saber) amargurada por não ter realizado os sonhos de infância (tornar-se piloto de Fórmula 1), mas sempre diligente e fiel à filosofia e desígnios paternos. São coisas que não fazem sentido perante olhos ocidentais. A despeito da economia morosa e da história imperialista (típica de povos orgulhosos e fimes), há muito que devemos (enfatizo: DEVEMOS) aprender com os japoneses. e assistir a "Jiro sonha com Sushi" é uma ótima forma de começar a lição.
A duração de "Jiro..." é seu maior defeito - o filme poderia durar outra hora e não seria cansativo (falo sem exageros aqui) - e uma de suas provas de sucesso, pois os oitenta e um minutos se passam como quinze. Como uma criança que começa a se entusiamar com o brinquedo, senti a mesma angústia revoltada quando vi este brinquedo sendo tomado de minhas mãos. "Jiro..." não devia ter acabado tão cedo. Da mesma grandiosa maneira com que se iniciou, o encerramento é digno do ato final da Nona de Beethoven. O último shot, desarmador como um abraço de criança ou as carícias de um filhote: Jiro no metrô, pensativo, sorri. E sabemos que sua vida está realizada.
Encontre esta crítica também em: http://cine-eterno.blogspot.com.br/2013/04/critica-jiro-sonha-com-sushi.html#more
domingo, 10 de março de 2013
Rapidinhas #1
Esse é um novo quadro para o Cine Eterno que as circunstâncias me forçaram a criar, e ao qual espero não ter que recorrer com freqüência. Caros leitores (e, claro, caro chefe), é necessária uma certa dose de cara-de-pau para alguém se dizer crítico e cinéfilo e já ter passado três semanas sem assistir a um único filme (trechos no YouTube não contam, só pra deixar claro). Mas eu sou cara-de-pau. É de família. Meu pai costuma se vangloriar que, toda vez quando faz a barba, cai serragem. Mas não é apenas pela maldita genética (e criação também!) que me desculpo; também é por matéria de prioridades. Não irei me alongar aqui em assuntos pessoais, que para vós são tão interessantes e relevantes quanto um urubu sendo sugado pela turbina de um Boeing 747 em plena decolagem... ou quanto ao último paredão do BBB (afinal, a edição deste ano ainda está no ar ou já acabou?).
CLIQUE AQUI PARA CONTINUAR LENDO!
CLIQUE AQUI PARA CONTINUAR LENDO!
sábado, 23 de fevereiro de 2013
"Tempos Modernos" & a Filosofia Fordista
Atenção: este não é um post apenas sobre cinema. Ele surgiu de uma tarefa universitária sobre o "Direito do Trabalho". Como o professor fortunadamente pediu que o filme "Tempos Modernos" fosse o argumento de nossos resumos, foi um dos poucos trabalhos que fiz com verdadeiro prazer neste curso. Infelizmente, como o trabalho foi cancelado sem muitas explicações, não me entreguei ao esforço de fazer-lhe revisões, então perdoem-se se o texto a seguir possuir algumas imperfeições. Bibliografia segue ao final deste post, assim como notas explicativas. Esta foi apenas a primeira parte de cinco no trabalho, mas como há pouquíssimo sobre cinema no resto do documento, seleciono apenas esta.
Charles Chaplin, na cena mais famosa de "Tempos Modernos".
Antes de se render ao poder da voz em “O Grande Ditador”, Charles Chaplin flertou com as inovações do cinema falado – não muito voluntariamente, todavia – em “Tempos Modernos”. Hoje vista como um grande marco de humor e uma peça satírica extremamente afiada – o que contrasta com o humor mais inocente e a crítica social mais velada de seus filmes anteriores –, “Tempos Modernos” foi uma das obras que contribuíram para inflar a fama de “comunista” de seu criador. Mesmo que fosse uma denominação imprecisa, ainda era perigosa no contexto de um país cada vez mais paranóico.
O filme é melhor conhecido pelos seus trinta primeiros minutos. Justo: é onde se concentram as críticas mais óbvias e as melhores situações, com as desventuras de Carlito – agora não mais um vagabundo, mas um operário profundamente azarado – em sua fábrica e na prisão. O forte elemento satírico aproxima “Tempo Modernos” da veia de “O Grande Ditador”, deixando a dúvida de qual seria o mais engajado em sua mensagem. Se neste último temos os discursos macarrônicos do pseudo-Hitler de Chaplin, ou suas danças com o globo terrestre ou suas disputas com o Benzito Napaloni para ver quem é o ditador mais opulento, em “Tempos Modernos” nós temos a comparação dos trabalhadores modernos com um gado, sua alienação pelo processo repetitivo de fabricação e uma prisão que se revela melhor do que a vida “livre”.
domingo, 10 de fevereiro de 2013
À Procura da Felicidade (2006)
“À Procura da Felicidade” é um filme clichê, mas esse não é nem de longe seu único pecado. Ele é previsível, melodramático, criativamente inócuo e tão satisfeito na sua zona de conforto que também pode ser chamado de covarde. Num trecho de dez minutos é possível extrair mais chavões motivacionais do que em todo um best-seller de auto-ajuda! Se eu quiser descer ao nível “Eufrazino Compra-Briga”, poderia argumentar que sua mensagem, por baixo da finíssima camada superficial, é moralmente perigosa. Mas que se dane: eu gosto desse filme. Não me desculparei tentando classificá-lo como um “guilty pleasure”, o que ele não é. Não consigo imaginar um humano com a mente sã ou o coração no devido lugar que ao menos não se simpatize com o que vê na tela, apesar de tantos apesares. O motivo é simples: “À Procura...” mexe com os instintos humanos muito além do que sua razão - sua pobre coitada e sempre secundária razão - pode refrear. É como um filhotinho de leão que, por um motivo qualquer (e pelo amor desta metáfora), acaba parando na porta de sua casa, como um bebê abandonado. Você sabe que não pode criá-lo. Sabe que ele crescerá e que 1) destruirá sua casa ou 2) fará de você uma refeição, e depois destruirá sua casa. Mas então você vê aquela linda carinha de filhote, aqueles olhinhos negros no meio daquela carinha peluda e diz: que se dane! Vou criar este filhotinho!
Pois eu, do mesmo modo, irei aprovar este filme.
AVISO IMPORTANTE: Migração para o Cine Eterno
Bom dia, pessoal.
Como é bem perceptível, já não me encontro em condições de gerir um blog e muito menos de mantê-lo com o mesmo vigor de antes. Recentemente, aceitei uma oportunidade de trabalho no blog do amigo Jéferson Barbosa, o Cine Eterno, no qual estarei postando críticas a parti de hoje. O Cine Eterno possui uma equipe completa e disciplinada e muito mais experiência de mercado, sendo bem mais conveniente especialmente para vocês, que poderão gozar de muitas outras matérias além de críticas.
Ainda decidirei o destino do Cine Lupinha. Ele provavelmente será desativado em breve. Não posso prometer a publicação regular de críticas, também, pois no momento encontro-me atolado nas seguintes tarefas:
- Registro de mais um roteiro que terminei de escrever (um monstro que era para ser um filme de 3 horas mas terminou como uma série de TV de 7 horas e meia);
- Término do meu primeiro romance (previsto para junho; publicação só quando a Grande Batata quiser);
- Estudo para o ENEM, a fim de largar direito e estudar comunicação social na UFRJ;
- Preparação para curso de verão sobre cinema no exterior (pretendo na UCLA);
- Continuação do meu curso de direito enquanto a UFRJ não está garantida.
Avisarei no caso de mais notícias. Quem quiser me contatar, meu e-mail é: dcysne@gmail.com.
Bons filmes a todos!
Cysne.
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
Django Livre (2012)
Tarantino é um artista fascinado pela vingança: em “Kill
Bill”, acompanhamos uma exímia lutadora de kung fu se livrar da gangue de
criminosos que arruinaram sua vida; em “Bastardos Inglórios”, vemos um grupo de
judeus fazendo com os nazistas aquilo que meio-mundo sempre quis fazer, e um
psicopata misógino prova um pouco do próprio veneno pelas mãos de um grupo de
mulheres aventureiras em “À Prova de Morte”. Mesmo quando aparece apenas de
figurante, a vendeta deixa sua marca forte em qualquer película tarantinesca (“Eu vou usar métodos medievais em seu
traseiro!”). Agora, com “Django Livre”, ela encarna o ex-escravo homônimo
transformado em caçador de recompensas, cujo dever é basicamente “matar brancos
e ser pago por isso”.
Arrisco-me a dizer que “Django” exercerá, quanto ao tema,
muito mais apelo a muito mais pessoas do que qualquer outro filme de Tarantino.
Se uma aventura “kung-funesca” de vingança feminina ou mesmo de ódio ao nazismo
são elementos limitados (nem todo mundo se importa com as loucuras da Alemanha
ou com as atrocidades de sua imitação barata de Bonaparte, o Hitler), a
escravidão – especificamente a promovida pelo branco europeu – mostrou sua face
horrorosa em quase toda nação não-européia do mundo. Nós brasileiros, então,
estamos acostumadíssimos com esse tema e, da mesma forma que muitos judeus se
imaginam estraçalhando Hitler com uma saraiva de tiros de metralhadora, nós
sempre nos deliciamos com a idéia de um negro (ou um grupo de negros) se
voltando contra seus senhores e açoitando-os no mesmo pelourinho em que eles
eram antes castigados. Nossa idolatria a Zumbi dos Palmares está aí para provar.
Sim, a história se passa nos EUA e se centra na escravidão
norte-americana (muito mais horrenda que sua contraparte brazuca – não se
deixem enganar pelas imbecilidades românticas e coloridas de “...e o Vento
Levou”), mas o efeito é o mesmo. Portanto, será que entrega aquilo que nosso
revanchismo histórico tanto deseja? Honestamente, eu não sei. Se levarmos em
conta a mera contagem de cadáveres brancos, não resta dúvida que sim. Mas se a
inserirmos no contexto da relevância artística, aí o resultado é muito menos
empolgante do que a premissa ou os trailers deixam parecer. Pois é, eu não adorei Django; gostei com reservas. Para
alguém que esperava um grande avanço desde o quase perfeito “Bastardos...”, a
decepção não foi pouca: “Django Livre” está muito mais próximo dos filmes
experimentais e irregulares de Tarantino (“Jackie Brown”, “Kill Bill – Vol. 2”,
“À Prova de Morte”) do que de suas obras-primas maduras e avassaladoras (“Cães
de Aluguel”, “Pulp Fiction”, “Kill Bill – Vol. 1” e “Bastardos Inglórios”).
Terei umas boas páginas para explicar minha visão (e tentar aplacar a ira das
sempre presentes tarantinetes), mas aproveito logo para resumir: “Django” sofre
com um Tarantino auto-indulgente, descontrolado (ou melhor: excessivamente
afoito) e quase previsível, como se fosse uma paródia de si mesmo.
“Chocolate é bom, mas demais enjoa.” Desde que despontou,
Tarantino se tornou o objeto “homenageado” preferido de cineastas amadores,
cuja ignorância da verdadeira essência tarantinesca os limita a entulhar seus
filmes com referências pop desenfreadamente e se esquecer de contar uma
história original. Eu diria que “2 Coelhos” sofre do mesmo problema, mas não
creio que seu diretor tivesse apenas Tarantino em mente quanto produzia a obra
– os fãs do filme é que são particularmente insuportáveis (cada vez que alguém
diz que “2 Coelhos” é melhor que um filme de Tarantino, um cinéfilo vira
homem-bomba e explode um multiplex lotado). Agora, novamente, parece que o
próprio diretor perdeu o tato com a produção e termina se parodiando,
entregando-nos aquele que talvez seja seu filme mais lotado de referências,
homenagens e elementos pop (pois é, batendo mesmo o escandaloso “Kill Bill –
Vol. 1”) e um dos menos impressionantes em termos de narrativa. É um contraste
bem visível se você compará-lo com seu brilhante antecessor, “Bastardos
Inglórios”.
No “European spaghetti” de Tarantino, acompanhamos três
narrativas diversas (Shosanna, os Bastardos e Coronel Landa) que lentamente se
convergem em um final inimaginável e bombástico. O mais estranho é que a obra não
lança mão de twists forçados ou de um
ritmo frenético para fazer cair o queixo da audiência: é tudo uma gradação tão
calma e paciente que, quando atinge o clímax, nada mais resta à platéia senão o
atordoamento. Cada núcleo dramático, não obstante, possui elementos únicos
sobre os quais os personagens dos demais núcleos são ignorantes e, como num
quebra-cabeças, o produto final só é completo com a união dessas partes
distintas. Efetivamente, temos três grupos que, desconhecendo as trajetórias
uns dos outros, caminham inexoravelmente para um desfecho quase kármico. E
conseguir juntar tudo isso com uma homenagem sincera ao poder do cinema, cenas
longérrimas (o bar nazista) e cultura popular é simplesmente coisa de gênio.
“Django Livre”, por sua vez, foca-se em um único personagem
– seu protagonista –, trás uma narrativa linear e uma história muito menos ambiciosa:
Django é liberto, passa algum tempo como caçador de recompensas (e a maior parte é retratada através de
montagens), parte em busca da ex-mulher ainda escravizada, enfrenta alguns
problemas com o vilão sádico que a “possui”, mas, no fim, consegue o que quer.
Um tanto frustrante para quem saboreara a grandeza de filmes como
“Bastardos...” ou “Cães de Aluguel”. Ora, mas “Kill Bill – Vol. 1” talvez seja
ainda mais simples do que isso e eu a considero uma das grandes obras de
Tarantino. Como é que pode ser?
Aí é que está: o primeiro “Kill Bill” pode ser diminuto, mas
é consistente e faz um uso sábio de sua duração. “Django Livre”, por outro
lado, é instável e inseguro. Se aquele era um mosaico pop assumido, este tenta
ser várias coisas ao mesmo tempo e vira um poço de contradições: é uma história
simples contada de forma grandiloqüente, um western típico embrulhado com
referências contemporâneas (há até rap
na trilha sonora!), um enredo linear que insiste em quebras desnecessárias de
cronologia, etc. Não poucas vezes eu tive vontade de pular ou adiantar algumas
cenas de valor puramente estético para continuar com a bendita história. E se
“Pulp Fiction” conseguiu amarrar todos aqueles núcleos dramáticos com onze minutos a menos, o aproveitamento da duração em “Django Livre” fica próximo do
de “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”.
Mesmo estilisticamente Tarantino, excitado demais para
escolher apenas um tom, resolve jogar todo seu conhecimento enciclopédico no
filme em detrimento da consistência. Por exemplo, peguemos a longa viagem de
Django e King Schultz ao lado de Calvin Candie: neste exageradamente longo trecho
de película (foi como se Tarantino quisesse levar a platéia a passeio, e me
surpreendo por ele não ter incluído o trajeto inteiro em tempo real) eu perdi a conta de quantas trilhas sonoras
diferentes o diretor usou (no mínimo, quatro – e duas em menos de dois minutos,
ao final). Noutro momento, ele resume a vida de Django como caçador de
recompensas em uma montagem pouco inspirada, que termina com um texto
expositivo em créditos ascendentes e é cortada para uma exagerada introdução de
Mississipi, em letras garrafais cruzando a tela da direita à esquerda. Esse
descontrole “pop” seria perdoável (e desejável) em “Kill Bill - Vol. 1”, que
era uma bagunça por natureza, mas em “Django” ele provoca um desagradável
contraste.
Outro exemplo, e bem mais grave: durante o ataque da
nascente Ku Klux Klan, o diretor inicia a cena com um plano dos membros
galopando em direção a Django e Schults, e depois a corta para o passado e
retrata o grupo ainda se organizando (e discutindo alguns problemas de
“figurino”). Logo depois, retorna a onde parou, no “presente”. Tarantino pode
ser famoso por suas quebras de cronologia, mas aqui os cortes são confusos e
desnecessários, pois se trata de uma narrativa estritamente linear. Além do
mais, eles se dão em cenas muito curtas e diversas e envolvem pouquíssimo
espaço de tempo, deixando claro que o diretor está preterindo a concisão em
nome do exibicionismo estilístico – algo bem grave para alguém que praticamente
reinventou a técnica. Ainda na mesma cena você perceberá que ele faz uso de um
humor pastelão que beira o infantil. O filme retrata os membros da KKK como
patetas incapazes de fazer dois furos em um pano, o que não seria um problema caso,
mais uma vez, não divergisse absolutamente do teor da obra. Mesmo o diálogo é
bastante inferior ao que estamos acostumados com alguém do porte de Tarantino,
e eu não sabia se estava achando um tanto de graça ou tentando esconder minha
vergonha-alheia com alguns risinhos amarelos.
E toda esta cena, aliás, é inútil. Poderia ser descartada do
filme sem qualquer prejuízo para o enredo ou o desenvolvimento de seus
personagens (ela basicamente nos ensina que Django pode atirar a longa
distância. Só.)
Como se a irregularidade da direção e do próprio enredo não
fosse coceira atrás da orelha o suficiente, alguns dos momentos mais climáticos
da obra copiam elementos de “Bastardos Inglórios”, pondo em xeque suas
pretensões de originalidade. Quando Schultz elimina um dos antagonistas do
filme, precedendo um grande tiroteio, o método por ele usado é quase idêntico
ao que os Bastardos vestidos de garçom usaram para neutralizar os soldados
nazistas nas portas do cinema, e o desfecho que Django dá a Candieland é
muitíssimo similar a um dos desfechos de “Bastardos Inglórios”. Tarantino
sempre se orgulhou de roubar (e ele usa exatamente este verbo) elementos de
outras obras e de lucrar com o resultado (daí o apelido de “Diretor DJ”), mas
fazer isso com as próprias obras não dá certo e instila no público um senso de
tapeação.
Apesar de acumular problemas, ainda estamos falando de um
filme de Tarantino. Ou seja, quando ele acerta... céus, como acerta! Há cenas
aqui tão bem escritas (e tão bem distribuídas) que, a cada ameaça de tédio pelo
ritmo inconstante, nosso humor é renovado pelas lufadas de genialidade do diretor.
A discussão entre Candie, Schultz e Django na Casa Grande de Candyland é o
equivalente do filme à cena do bar em “Bastardos...”: lenta, construtora de
formidável tensão e se concluindo com a revelação inesperada de um segredo (pensando
bem, creio que esta é mais outra autocópia do diretor - que feio!). Minha
favorita é, de longe, a chegada de Schultz e Django em sua primeira cidade -
seguida de uma hilária (e brutal) contenda entre ambos e o xerife do lugar. E,
apesar das vacilações ocasionais, o humor deste western é afiadíssimo, talvez o segundo melhor da carreira de seu
criador (não tem como superar “Kill Bill - Vol. 1” e seus membros cortados que
jorram sangue com mais força e volume do que uma mangueira de bombeiro).
Christopher Waltz encarna o gentil e ácido King Schultz com perfeição e supera
DiCaprio em sua interpretação do estereotipicamente perverso Calvin Candie -
talvez eu tenha gostado mais do vilão se ele tivesse passado mais tempo em tela
ou tivesse cometido atos de verdadeira
brutalidade. Pois é, da mesma forma que Django, um escravo sendo comido vivo
por cachorros foi pouco impressionante.
E há mais um elogio que nunca imaginei que faria: dou meus
parabéns à dublagem brasileira, que apresenta um trabalho de altíssimo nível.
Por causa de circunstâncias infelizes não pude assistir à película legendada -
e ainda recomendo que essa seja a prioridade de qualquer cinéfilo - e tremi,
naturalmente, diante do que a típica incompetência de nossos dubladores poderia
fazer com o filme - justamente um filme de Tarantino! Qual não foi minha surpresa ao ver que tudo saíra ok -
na verdade, bem mais do que ok. É impressionante a conservação do linguajar
culto e pomposo do doutor Schultz e das divagações pseudo-científicas do
desprezível Candie (espertamente traduzidas como “crioulogia”). É um alívio
tremendo finalmente ouvir palavrões em abundância, com inúmeros “c#ralhos”,
“p#rras” e “p#tas” transbordando das bocas dos personagens como uma gloriosa
cascata de profanação. Sim, algumas piadas foram inevitavelmente perdidas (eu
fui o único da sala que riu quando Stephen confundiu o nome de Schultz por
“Shitz” - “merdas”, em inglês), mas o esforço geral da tradução foi admirável -
o que agora me dá a certeza de que, quando queremos fazer algo direito, não há
desculpa para não fazê-lo. O bom trabalho da dublagem me fará ser ainda mais
rigoroso com ela: ora, se com “Django” um grande resultado foi obtido, por que
continuar tratando tantas outras obras de maneira leviana?
“Django Livre” é mais um exercício de estilo e de homenagem
a terceiros do que uma obra firme e independente. Assim como “À Prova de Morte”
ou “Jackie Brown” (e em maior escala que ambas), é uma produção divertidíssima,
mas não marcante. Suas quase três horas, mesmo já fruto de cortes na pós-produção,
parecem infladas e o descompasso de seu diretor nas referências que tanto adora
fazer chega a enjoar. “Django” possui bem mais brancos morrendo pela revanche
de um ex-escravo do que “Bastardos” possui nazistas nas mãos de judeus, mas é
este último que carrega, digamos assim, um maior “índice de satisfação por
morte”. A prova cabal de que qualquer coisa, mesmo a melhor coisa do mundo,
enjoa quando em excesso.
NOTA: 7,0
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
INDICAÇÕES AO OSCAR 2013 - Comentários
Mais um ano, mais uma rodada de premiações e,
claro, mais uma festança em torno do “Academy
Awards” - vulgo “Oscar” -, que consegue a proeza de se tornar ainda mais
desinteressante que sua imensamente insossa edição de 2012. Pois é, com exceção
da premiação de 2011 (fantástica!), meu interesse já meramente burocrático na
Academia foi substituído por um sentimento de irritação e tédio: indicados cada
vez mais previsíveis, filmes pouquíssimos ousados e esnobadas características
de um comitê que precisa urgentemente se aposentar. Ou morrer. Reflexo da cada
vez maior concentração de poder entre os produtores norte-americanos? Sem
dúvida. Expressão de uma classe minoritária e conservadora? Claro. Relevância
mantida apenas pelo glamour dos
grandes tempos e pelo comboio pesado da mídia? Ora, óbvio! Esse é o nosso Oscar:
dominado pelas piores características de sua história e expulsando
paulatinamente o pouco que lhe resta das melhores.
Pois é, estou pouquíssimo excitado com as
indicações reveladas hoje, mas o dever chama e sempre há uma ou duas coisas
interessantes a serem ditas para cada categoria. Aqui vão meus comentários
sobre as mais pertinentes - e sobre as que tenho considerável domínio, óbvio - além de uma avaliação geral deste último, e decadente, símbolo da glória de
Hollywood.
hš Resumo da Ópera h
É chutar cachorro morto, mas comecemos
lembrando o miserável papelão do Brasil com “O Palhaço”. Desde o início eu estava convicto de sua não-indicação
e mesmo de sua não-pré-seleção. E quem achava o contrário ou era muito
inocente... ou muito tolo. O desempenho patético do Brasil na Academia
evidencia mais uma vez o tremendo despreparo de seus produtores e o péssimo,
quando existente, planejamento de marketing internacional. Com menos furor e
mais justiça, ficamos também de fora da categoria “Melhor Curta-Metragem”: “A Fábrica”, de Aly Muritiba, teve um
desempenho invejável por festivais mundo afora, cumpriu sua cota na divulgação
e aclamação crítica e foi coroado com uma pré-indicação, mas não nada além
disso. Como sempre, não foi dessa vez.
O maior “babado” do Oscar também foi sua maior
“esnobada”, e uma com a qual eu concordo parcialmente: “O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, aclamado por meio-mundo como a
obra-prima máxima, fenomenal e divina da história do cinema de super-heróis, terminará
o ano com... ZERO INDICAÇÕES! Isso
mesmo, nada! Nadinha, nem uma categoria técnica sequer! Eu bem sabia que os
membros da Academia estavam pouquíssimo impressionados com o filme (e, por
isso, eu lhes daria um abraço), mas não concorrer a absolutamente NADA?! Ora,
eu sou 100% a favor de manter o filme distante de quaisquer categorias
principais e mesmo de algumas técnicas (a montagem é atrapalhada e os efeitos
visuais são nulos perto dos concorrentes), mas nem mesmo o Design de Áudio?
Culpa de Bane?
E os titãs deste ano foram (uma estrela para
cada indicação):
Lincoln ««««««««««««
A
Vida de Pi «««««««««««
Os
Miseráveis ««««««««
O
Lado Bom da Vida
Argo «««««««
« Melhor Filme «
INDOMÁVEL SONHADORA « O LADO BOM DA VIDA « A HORA MAIS ESCURA
LINCOLN « OS MISERÁVEIS « AS AVENTURAS DE PI
AMOR « DJANGO LIVRE « ARGO
O reconhecimento do gênero indie com a indicação de “Indomável
Sonhadora” é um comedido alento de que, por enquanto, produções de
baixo-orçamento ainda têm vez entre os figurões de sempre. De minha opinião, a
presença do mais abastado “O Lado Bom da
Vida” é a virtude salvadora da categoria. Talvez a dona da história mais
“bizarra” entre todos os filmes, para os padrões oscarianos, a produção
amealhou oito indicações e consagra as carreiras de Jeniffer Lawrence e do
roteirista/diretor David. O. Russel. E, sejamos francos, Quentin Tarantino não
é tão esnobado quanto querem fazer parecer: a mais ou menos ousada lembrança
de “Django Livre” para Melhor Filme,
além de duas outras categorias majoritárias (Ator Coadjuvante & Roteiro
Original) e duas técnicas (Fotografia & Edição de Som), é mais um triunfo
para a carreira virtualmente inabalável do gênio-cinéfilo, além de continuar sua tradição de ser muito mais fácil entrar nesta categoria do que na de
“Melhor Diretor”.
De resto... bom, alguma surpresa? “Amor” venceu
as naturais barreiras contra filmes estrangeiros e conseguiu seu lugar no
Olimpo, mas a aclamação em torno do filme era tão grande (quase fanática, se me
permitem dizer) que não sei bem se é digno chamar o evento de uma “surpresa”.
Ah, e é claro: essa indicação dá, de forma explícita, o resultado para “Melhor
Filme Estrangeiro”. Haneke não precisa sequer suar frio: com no mínimo uma
estatueta ele já pode contar. Já o poderio da indústria fica no cinturão
“Lincoln - Pi - Argo - Hora - Les Mis”. Para o último, méritos duvidosos: são
polarizadas as opiniões sobre o musical de Tom Hooper, mas nunca foi segredo de
que, desde seu lançamento, o filme tinha ingresso garantido. Spielberg desta
vez pode aparecer com mais justiça do que com o tenebroso “Cavalo de Guerra”, e
“Argo”, cuja hype não pára de cair, é também outro que já possuía ingresso
instantâneo. Meu desgosto pessoal vai para “As Aventuras de Pi”, indicado ao meu prêmio imaginário de “Filme
Mais Supervalorizado do Ano” (perdeu para “O Cavaleiro das Trevas Ressurge”).
QUEM
MERECE GANHAR | Django Livre
As Aventuras de Pi | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Argo e Qualquer Coisa que Saia da
Cabeça de Spielberg
________________________________________________________________________
« Melhor Diretor «
MICHAEL HANEKE « BENH ZEITLIN « ANG LEE
STEVEN SPIELBERG « DAVID O. RUSSEL
Essa categoria não surpreende por quem conseguiu
entrar, mas por quem ficou de fora. Geralmente a arma predileta da academia
para esnobadas, a estatueta por Direção não será disputada por três dos nomes
mais quentes da temporada: Ben Affleck,
Kathryn Bigelow e, claro, Taranta. O primeiro, que muitos
julgavam ter um ticket garantido, sofre com a perda de influência de sua obra
na mídia: não se escreve nem se comenta mais nada sobre “Argo”, e ele
está sendo punido apenas pelo timing
infeliz do lançamento. Ah, o senso meritocrático torpe da Academia! Já Bigelow, que conseguiu não só se tornar
a primeira mulher a vencer na categoria como também executar uma das melhores
vinganças matrimoniais da história, talvez sofra com a síndrome de “Você Já Ganhou
Um!” - adicionada ao elemento “Você é Mulher!”. E a Academia deixa mais clara
sua política “Anti-Tarantino” neste quesito. Segue abaixo um dos trechos do acordo:
“Art. 34. ...
§ 13. Deve-se evitar, com todo
empenho possível, a indicação do plebeu Quentin Jerome Tarantino à nobre
categoria de “Melhor Direção”;
§ 14. Deve-se evitar, com igual
empenho, que suas mãos, possivelmente sempre borradas pelo freqüente manuseio
de capas de DVD e contato com as massas, toquem em qualquer uma de nossas
Sagradas Estatuetas. Pode-se indicar alguma de suas obras a “Melhor Filme”,
desde que ele não apareça como produtor;
§ 15. A exceção fica com “Melhor
Roteiro Original”. Não tem jeito. Pega mal não indicá-lo ao menos aqui.”
E,
dos que passaram, como fica a situação? Zeitlin
e Russel já estão de fora: são “sangue-novo”
e não possuem nomes vendáveis. Lee e
Spielberg disputam a estatueta no
tapa e com resultado genuinamente imprevisível, mas o primeiro adquire maior
vantagem porque 1) Seu filme foi um sucesso comercial superior; 2) Seu filme é
mais adorado pela mídia; 3) Seu filme é mais adorado pela crítica; 4) Seu filme
é sentimental e passa uma (nem um pouco discreta) moral religiosa. E todos AMAM
morais religiosas! Mas Haneke não fica muito atrás, e premiar um estrangeiro
sempre confere à Academia um ar de progressividade e arrojo. Tudo dependerá do
clima dos membros votantes: se eles estiverem se sentindo mais artísticos e
ousados, será Haneke. Se permanecerem com a preguiça de sempre, ou Lee ou
Spielberg.
Ah,
e não nos esqueçamos de P. T. Anderson
(“O Mestre”), cuja personalidade introvertida o torna sempre o menos atraente
dos diretores. Algo totalmente inverso ao seu talento.
QUEM
MERECE GANHAR | Michael Haneke
Ang Lee | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Steven Spielberg e Michael Haneke.
________________________________________________________________________
« Melhor Ator «
DANIEL DAY-LEWIS « DENZEL
WASHINGTON « HUGH JACKMAN
BRADLEY COOPER « JOAQUIN
PHOENIX
Com
exceção de Hugh “Wolverine” Jackman (sério?! Jackman?!), esta foi a categoria
menos surpreendente e uma das mais justas. Todos os presentes foram lançados
por seus filmes como “garotos-Oscar” (tirando Jackson - que nem por essa “Os
Miseráveis” esperava! - e, talvez, Cooper) e todos entregaram performances
estelares. Mas é claro que todos os olhos se voltarão a apenas uma pessoa:
Daniel Day-Lewis, o mais premiado ator da temporada e um dos mais idolatrados
na história da Academia (você não ganha o apelido de “Melhor Ator do Mundo”do
nada). Uma pena. Se mérito puro fosse o fator determinante, as mãos mais dignas da
estatueta seriam as de Phoenix, cuja performance em “O Mestre” foi há muito
descrita como quase sobrenatural.
QUEM
MERECE GANHAR | Joaquin Phoenix
Daniel Day Lewis | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Phoenix, mas só por um milagre.
________________________________________________________________________
« Melhor Atriz «
NAOMI WATTS « JESSICA CHASTAIN « JENNIFER LAWRENCE
EMANUELLE RIVA « QUVENZHANÉ
WALLIS
É
a categoria das estrelas em ascensão, com apenas Naomi Watts como nome mais estabelecido. Jennifer Lawrence, claro, sai desta categoria desde já, tendo
cumprido os principais itens requeridos para uma mega-estrela de cinema: 1) Ser
linda; 2) Ser talentosa; 3) Estrelar uma franquia popular. A candidata Quvenzhané Wallis é a presença mais
notória da noite, visto que suas habilidades como atriz parecem ser
inversamente proporcionais à idade (míseros nove anos). Emanuelle Riva cumpre seu papel como “Porta-Voz das Glórias de
‘Amor’”, mas ganhará apenas se, como descrito em “Melhor Diretor”, a classe
votante estiver se sentindo “artística”. E Jéssica
Chastain só precisa de um blockbuster
para consagrar o estrelato. Sabiamente, ela prefere o teatro e a carreira indie. Boa menina.
QUEM
MERECE GANHAR | Naomi Watts
Naomi Watts | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Jessica
Chastain.
________________________________________________________________________
« Melhor Roteiro Original «
MICHAEL HANEKE « QUENTIN TARANTINO « JOHN GATINS
WES ANDERSON & ROMAN COPPOLA « MARK BOAL
Um
dos terrenos mais conhecidos por Tarantino no Oscar (e um dos que ele mais sai
de mãos abanando) provavelmente continuará dominado pela Hanekemania. A
lembrança quase simbólica de Wes Anderson e Roman “Filho de Francis” Coppola
dificilmente sairá do simbolismo, mas a vitoria é sem dúvida muito mais provável do que a dos artigos decorativos Gatins e Boal.
QUEM
MERECE GANHAR | Quentin Tarantino & Michael Haneke,
igualmente
Michael Haneke | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Wes Anderson & Roman Coppola
________________________________________________________________________
« Melhor Filme Estrangeiro «
AMOR (ÁUSTRIA) « NO (CHILE) « WAR WITCH (CANADÁ)
A ROYAL AFFAIR (DINAMARCA) « KON-TIKI (NORUEGA)
Duas palavras: Michael
Haneke.
QUEM
MERECE GANHAR | Michael Haneke
Michael Haneke | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Ninguém.
Ah, sim, e pra onde foi “Holy Motors”? Ninguém
sabe.
________________________________________________________________________
« Melhor Animação «
VALENTE « FRANKENWEENIE « PARANORMAN
PIRATAS PIRADOS! (?!) « DETONA RALPH
Uma
pequena evolução, se comparada à anticlimática competição passada, mas ainda
assim uma das menos excepcionais categorias do Oscar. Fico me perguntando se, dentro de
seus caixões, os membros da Academia não discutem seriamente sobre pôr um fim na
categoria. Sério: seu mercado é bastante irregular e os poucos filmes que não
são bastante comerciais são desconhecidos demais para sequer serem levados a
sério além de uma honrosa indicação. Sem falar que 2012 foi, disparado, um dos
piores anos do gênero, ao menos com o grande público: a Pixar continua sua
descida ao inferno com o dolorosamente clichê e desrespeitoso “Valente” (“Irmão Urso” com pedigree) e “Frankenweenie“e “ParaNorman“foram ambos fracassos de bilheteria (pois é, Tim Burton
deve estar pagando pelos pecados de “Alice” este ano), embora suas críticas
tenham sido anos-luz mais favoráveis. Para cumprir sua cota de “facepalms” e, como sempre, dar uma boa
cuspida na própria reputação, a Academia nos faz o favor de trazer o execrável
“Piratas Pirados!” à competição. O
que posso dizer?! Charles Darwin, um dos maiores gênios já paridos por esta
Terra, retratado como um nerd abobalhado e atormentado por carências sexuais
juvenis? Não, obrigado.
Pessoalmente,
creio que “Detona Ralph” é o mais
digno do prêmio. Dentre todos, ele é o filme mais “completo”: ambicioso, bem
escrito, bem sucedido financeiramente e simplesmente apaixonante. Mas a
animação definitiva do ano foi, sem sombra de dúvidas, “Arriety”, dos Estúdios Ghibli, que fica de fora mais pela confusão
nas datas de lançamento do que por burrice da Academia. Afinal, se o filme
fosse preterido em nome de “Piratas...”, cabeças teriam que rolar!
QUEM
MERECE GANHAR | Detona Ralph
Valente | QUEM PROVAVELMENTE GANHARÁ
QUEM
AINDA TEM ESPERANÇA | Frankenweenie
Assinar:
Comentários (Atom)


.jpg)


.jpg)

.jpg)